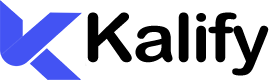▕ Wagner Williams Ávlis*
“Eu odeio super-heróis. Eu os vejo como abominações. Originalmente eles ficavam nas mãos de autores que expandiriam sua imaginação para atingir seu público de 9 a 13 anos de idade. Era isso que devia ser feito e eles o faziam muito bem. Hoje em dia os quadrinhos não são mais para este público. [...] Alarmante que um público adulto vá ao cinema assistir aos Vingadores e fique maravilhado com personagens que deveriam entreter garotos de 12 anos nos anos 1950. [...] Leitores de super-heróis são pessoas que, em geral, não têm o controle da própria vida” ━ Alan Moore.[1]
|
A antiga e vazia noção do super-herói em quadrinhos como sendo um imaginário infantil ainda não foi superada, mesmo em tempos da apoteose pop como esse nosso. O Super-herói como “coisa de criança” resiste no julgamento dos mais velhos e na percepção dos mais novos, em suma, persiste no senso comum, âmbito onde tem atuado os filmes de quadrinhos numa espécie de mescla entre ficção científica, literatura infanto-juvenil, produtos de massa, em que, exceto em alguns poucos filmes, em geral incompreendidos ou pouco aceitos pelo grande público, discussões com temáticas profundas são deixadas de lado para projetar, sempre em primeiro plano, o lúdico (por vezes acima de qualquer outro propósito), em um assunto que pouco combina com divertimento, que é a busca, o acúmulo e o exercício do poder.
O mais intrigante é que a associação que se faz por aí do herói quadrinístico para com a fantasia da criança parece somente perseguir a 9ª arte, estigma herdado da censura do Comics Code Authority durante a Era de Prata das Histórias em Quadrinhos (1956-1970), censura que forçou as HQs a se adequarem a uma postura de anulação da violência, do terror, da sedução, da denúncia social, fazendo-as adquirir uma característica infantil. Em nenhuma outra expressão artística a figura do herói é vista com infantilidade, e o gibi é o único suporte artístico sinônimo de “passatempo de crianças”, uma herança dada pela acepção da palavra “gibi” (“moleque negro travesso”) – sinônima da palavra “mirim” – e pelo título duma revista infantil da empresa Globo, de Roberto Marinho, chamada “Gibi”, de 1939, a partir daí um sinônimo de "revista de histórias em quadrinhos" no imaginário popular. Logo, a associação feita obedeceu a este esquema: criança → super-herói → quadrinho → leitor de quadrinhos → criança. Para o senso comum, o leitor de quadrinhos heroínicos nada mais é do que um crianção ou uma criançona mesmo que seja um(a) colecionador(a) sexagenário(a). Diante dessa berlinda, cabe uma pergunta, como o gênero quadrinístico de super-heróis poderá encontrar saída contra o estigma de “coisa de criança”, e portanto produto raso, para assumir no senso das massas seu lugar, de fato e de direito, de arte de alto nível?
Não é absurdo esperar por tal respeito do senso comum para as HQs heroínicas. Em matéria de arte muitas vezes o respeito antecede o preconceito. Vejamos. O que nossa época chama “literatura infantil” não é tida por um consumo bobo por nenhum adulto, aliás, sequer é chamada assim por bastante gente, já que se chegou à acertada percepção de que seu conteúdo veiculado atinge não só os infantes, atinge todos os públicos, ainda mais quando veiculado com procedimentos universais da Literatura. Somente os (poucos) tolos dirão que obras como O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, ou As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, são historietas para crianças. Outro caso é a fábula. Em nenhuma época a fábula, com todos os seus personagens ora crianças, ora animais falantes, jamais foi vista como “coisa de criança”, pelo contrário, sua força didática lhe alçou ao respeito que atravessou séculos, sem público seleto, de sorte que artistas como Esopo, os Irmãos Grimm, Charles Perrault, La Fontaine, Hans Christian Andersen, Gustave Doré, tornaram-se referência tanto para o segmento artístico quanto para o povão. Há ainda o caso do romance. Quando, no séc. XIX, com o advento da imprensa, o folhetim saiu dos jornais para o livro tipográfico-encadernado, seu maior público leitor eram as mulheres[2], fato que influenciou tendências, temáticas, modo de compor tramas; o romance romântico, até os dias atuais – a exemplo dos pocketbooks “Sabrina”, “Júlia”, “Bianca” –, ainda traz consigo características acentuadamente femininas do tempo dos folhetins, e, no entanto, mesmo nos anos efervescentes do seu consumo, nunca foi taxado como “leitura de mulher” ou pejorado como “coisa de mulherzinha”. Diferente disso o romance romântico é um produto tão prestigiado que nos meios de circulação, desde sempre, atualiza-se, remodela-se, assumindo em nossos dias um sem número de subtipos e formas, num arco que se estende desde A Culpa é das Estrelas, um box quádruplo de Sidney Sheldon a best-sellers de Martha Medeiros como Doidas & Santas, consumidos, ressalte-se, por crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, gays e lésbicas.
Por que então uma arte nascida na crista da contemporaneidade, como foi o quadrinho de super-herói, jovem, ainda em pleno vigor de seus 80 anos de vida útil, não conseguiu libertar-se do taxativo de besteira de moleque? O que explicaria a força dos 30 anos de “censura da infantilização” (contida no citado Comics Code Authority) sobre os 50 anos majoritários da 9ª arte? Muitas são as explicações, entretanto, uma é a sede das demais: a incompreensão do sentido do gênero; incompreensão que se flagra intensificada quando sabemos que a preocupação em explicar o gênero heroínico dos comics é tardia, escassa, vinda somente nos anos 1990 com uma crítica de cunho mais literário do que histórico[3]. As histórias em quadrinhos de super-heróis, trocando em miúdos, consistem num deficiente escopo artístico incompreendido no Brasil, pouco estudado e com apenas 20 anos de análise técnica nos EUA, ainda percebidas como um produto de massa e não como arte, razão por que entre nós ainda são anuviadas por sombras de preconceito.
O fato é que o gênero de super-heróis é mais do que uma arte, é uma aspiração humana, a manifestação do ideal contido no inconsciente coletivo, nos termos de Gustav Jung, ou no inconsciente social, nos termos de Erich Fromm[4]. O ideal do herói é o ponto onde acaba a natureza [limitada] e começa a cultura [imaginária], daí a diante o devir, o vir a ser, e não o modo de ser, algo bem ilustrado na fala da Ofélia ao rei em Hamlet, de William Shakespeare, no ato IV, cena V: “Sabemos, senhor, o que somos, mas não o que viremos a ser”, um equivalente a “eu não sei o que quero ser, mas sei o que eu não quero me tornar”, de Friedrich Nietzsche, e uma variante de “não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço é que me define”, no filme Batman Begins (2005). O ideal do ser herói, como fora posto, está presente na coletividade, porém tem origem na noção de limite, os limites do corpo, da força, das condições materiais, da justiça, das virtudes, enfim, de tudo o que circunda a materialidade da existência e que, dalguma forma, nos reprime, como ensinara o psicanalista alemão Erich Fromm, “o moderno ‘homem de organização’ pode sentir que sua vida não tem sentido, que seu trabalho o aborrece, que tem pouca liberdade de fazer e pensar como quer, que está perseguindo uma ilusão de felicidade que jamais se alcança ou torna verdade. Mas se ele tivesse consciência de tais sentimentos, seria muito prejudicado em sua atuação social. Sua consciência constituiria um perigo real para a sociedade tal como está organizada, e em consequência o sentimento é recalcado”[5]. Libertar-se das amarras da limitação material através da imaginação para tornar-se idealmente um super-eu é coisa que crianças, adultos, idosos fazem, se não o tempo todo, todo o tempo de suas respectivas fases, e por isso voar nas asas da ficção, ainda quando são os super-heróis a condução, não possui idade.
Mas que tipo de linguagem e qual categoria de arte de ficção seriam compatíveis e contemplariam esse negócio de inconsciente coletivo/inconsciente social no ideal do super-herói? Aqui reside toda a incompreensão do sentido do gênero quadrinístico. O tipo de linguagem é a alegoria e arte é o apólogo. Alegoria é uma expressão figurada, simbólica, não real, de um conceito ou de um sentimento, através da qual um objeto pode significar outro, transmitindo um ou mais sentidos; a “alegoria da caverna” no livro VII na República, de Platão, é a mais famosa. O apólogo é um gênero textual alegórico tendo por personagens seres inanimados ou animalescos apresentando alguma lição de vida; A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é, todo ele, basicamente um apólogo. Temos então que a alegoria e o apólogo possuem uma caraterística comum, a representação. Atados, ambos, com sua representação, constituem a essência de todas as parábolas, fábulas e dos mitos correntes que uma antropologia possa registrar. As histórias em quadrinhos dos super-heróis se incluem nesse arcabouço de representatividades alegóricas do engenho humano, são, pois, a representação de arquétipos, uma metáfora moderna, a atualização das fábulas, são parábolas do contemporâneo. A ideia do herói, presente desde as primitivas tribos de caçadores, não é outra coisa senão o grande e universal apólogo da alma do Ocidente que encontra como espaço privilegiado de difusão, dentre tantas outras mídias, os comics. Como isso acontece na prática é coisa que continua no próximo capítulo...
____________________________________
(*) Professor de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação, escritor da Academia Maceioense de Letras, articulista de imprensa. Nas horas vagas, é historiador do Homem-Morcego.
[1] Extraído do jornal The Guardian em 2013. Citação do Terra Zero, “Alan Moore comenta super-heróis e o entusiasmo dos fãs”. Todos os críticos e leitores do Mago de Northampton estão cientes de que se trata duma declaração regada a ressentimento, amargura, revolta, decepção com as editoras do mainstream de super-heróis para as quais prestou serviço, não é pois uma confissão imparcial. Também desejo esclarecer que, com isso, não estou idolatrando a figura de A. Moore, embora eu o considere o maior gênio que os quadrinhos tiveram em nossa contemporaneidade, estou apenas colocando as coisas em seu devido lugar. Como pessoa eu repudio a vida, a conduta e a visão de mundo que Moore tem, ele, para mim, como indivíduo, é um péssimo exemplo e não me é nenhuma referência a seguir; porém, como artista, o considero genial, melhor do que o próprio Will Eisner, o criador das grapich novels.
[2] Para uma compreensão global dos acontecimentos históricos, indico o artigo português de RAFAEL, Gina Guedes. Jornais,Romance-Folhetim e a Leitura Feminina no Século XIX: InfluênciasTransatlânticas? Revista ÍRIS, v.1, nº 1, p.32-42, jul./dez.2012. Recife: UFPE, 11 págs.
[3] Antes da década de 1990 tudo o que se tinha de crítica ou apontamentos sobre quadrinhos, sobretudo no Brasil, era de cunho histórico e não analítico-literário. Por aqui a exceção é o trabalho de Álvaro de Moya, SHAZAM! – Debates, Comunicação, de 1970, de teor mais voltado para a análise sociológica.
[4] O “inconsciente coletivo” indica diretamente a psique universal, grande parte da qual não pode nem mesmo tornar-se consciente. O conceito de inconsciente social parte da noção do caráter repressivo da sociedade e se refere àquela parte específica da experiência humana que uma determinada sociedade não permite que atinja a consciência”. FROMM, Erich. Meu Encontro com Marx e Freud. 7a edição. Rio de Janeiro: ed. Zahar, 1979, p. 109.
[5] FROMM, Erich. Op. cit., p. 115.