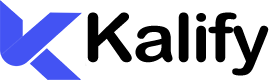Volto
a insistir... se há uma coisa que me incomoda (e me tira do sério) é a mania
que muitos brasileiros têm de menosprezar a própria pátria. Ou melhor, em geral
o brasileiro que tem essa mania, na maioria das vezes ele não se inclui no contexto, ele parece passar sempre ao largo da corrupção, das falcatruas, da
“lei do Gérson”, mas...
Em
geral, eles condenam o “jeitinho brasileiro”, mas muitos deles, no fundo, por “trás dos panos”, seguem direitinho “a tal cartilha” que tanto criticam. Ou, no mínimo, são apenas meros
“papagaios”, repetindo o que ouvem como se tudo “verdade verdadeira” fosse,
comparando sem nenhum conhecimento de causa, numa visão pessimista, aqui com acolá (ou seja, muitos nunca botaram sequer o pé lá fora, mas adoram vomitar:
“lá nos States ...”).
E
essa mania (escrota, diga-se de passagem) já foi percebida por estrangeiros
que, ao contrário, em geral têm uma visão otimista do nosso país. O francês
Olivier Teboul (no Brasil há uns dois anos) é um deles, comentando isso
inclusive em seu blog: “aqui, no Brasil, os brasileiros acreditam
pouco no Brasil... tem um sentimento geral de inferioridade que é
gritante, principalmente a respeito dos EUA... as pessoas acham que dirigir
mal, ter trânsito, obras com atraso, corrupção, burocracia, falta de educação,
são conceitos especificamente brasileiros, mas eu nunca fui num país onde as
pessoas dirigem bem, onde nunca tem trânsito, onde as obras terminam na data
prevista, onde corrupção é só uma teoria, onde não tem papelada para tudo e
onde todo mundo é bem educado”.
E também o americano (radicado
na Holanda) Benjamin
Moser é um deles. Durante um curso de português, ele foi “apresentado” aos textos
da nossa memorável Clarice Lispector e ficou fascinado pela escritora (mais um
entre tantos, como vemos no livro “Clarice na cabeceira”, com depoimentos de
vários artistas e intelectuais, todos vidrados na enigmática Clarice).
O apaixonado Moser
resolveu estudar Clarice a fundo e decidiu desvendar a sua alma “inquieta, áspera e desesperançada que tinha amor dentro de si, e que às vezes arranhava feito farpa” (texto do livro “Água viva”, que Cazuza e Frejat, dois também apaixonados pela escritora, adaptaram e musicaram em “Que o Deus venha”).
Moser fez inclusive o caminho inverso da vida da nossa Clarice até a Ucrânia (ela nasceu ucraniana, mas foi naturalizada brasileira ainda bebê, quando aqui chegou no início do século XX na companhia de familiares fugidos da guerra na Europa), e acabou lançando a primeira biografia na língua inglesa da nossa admirável escritora, com o título em inglês “Why this world” que define a enigmática Clarice (o livro já existe inclusive traduzido para o português).
Eu particularmente sempre tive um verdadeiro fascínio pela pessoa e pela “personagem ficcional” Clarice
Lispector (que sempre foram inseparáveis). Sempre fui curiosa em conhecer o seu mundo e apaixonada pelos seus textos; talvez porque eu reconheça, em mim, a mesma impulsividade da escritora,
em sua confessa mania de agir por impulso, sem nem pensar nas consequências –
parafraseando a própria Clarice, os seus textos me fazem “me perder de mim”.
Em
meio ao aprendizado dos clássicos da música (eu estudei piano), entre Mozart,
Chopin e Villa Lobos, eu lia contos e romances, e acabei por “descobrir” Clarice
ainda na minha adolescência. E eu também “bebia da fonte” dos belos ritmos
modernos que já existiam quando eu vim ao mundo (como a bossa nova, o jazz, o
blues e o reggae).
E
o transgressor “rock and roll” (com sua influência advinda do jazz e do blues) alcançou
o seu auge na minha adolescência; assim meu ouvido foi treinado, desde
sempre, para apreciar boa música e, por tabela, boa leitura e boa
poesia, por isso “me dói tanto o ouvido” quando ouço qualquer pseudo
música com melodias chinfrins de uma nota só e letrinhas com rimas pobres e forçadas (como
acontece nas tais “sertanejas”, isso sem falar nas baixarias explícitas do
bate-estaca do funk).
A “transgressão” dos anos 60/70 se completou, para mim, com Clarice Lispector (quando ela já tinha morrido), mas eu só consegui lê-la em detalhes quando já adulta, porque eram os “anos de chumbo” e a alienação reacionária dos militares não entendiam a complicada escritora (e os “sem noção” hoje vão às ruas pedir a volta dos militares ao poder... Aff... “Aula de História neles”).
Certa vez ela assim definiu seu papel de escritora: “sou uma pessoa que pretendeu colocar em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável”. E isso se reflete no seu mais enigmático romance “A paixão segundo G.H.” com sua dedicatória a “possíveis” leitores, como ela faz questão de frisar no prólogo do livro: “eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada”.
Sim,
ela tinha razão, para entendê-la é preciso ter “alma já formada”, pois
para alcançar o mundo de Clarice é preciso desarmar-se, lê-la sem preconceitos,
deixar-se conduzir por uma escrita errante, onde a palavra às vezes é inatingível,
porque para desespero da própria autora, “a palavra não consegue
expressar o meu íntimo” (nem o nosso também). Sua escrita parece sempre uma
tentativa de encontrar-se (e perder-se novamente).
Clarice
não era poeta, assim muitos poemas que circulam pela internet como de sua autoria,
são na verdade apócrifos, como é o caso de “Não te amo mais”, texto na verdade de
autor desconhecido (apesar de gramaticamente mal escrito, o tal poema é interessante já que lido “de
trás prá frente” muda totalmente o sentido do mesmo).
Já
outras frases são mesmo de sua autoria, mas na verdade são “pinçadas” dos seus
famosos romances e contos (são mais de cinquenta títulos), ou então de entrevistas onde ela era instigada a dar respostas
sobre sua inquietude como escritora:
“Eu escrevo para me manter viva”. “Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, eu continuarei a escrever”. “Eu escrevo para ficar livre de mim mesma”. “No fundo, a gente está querendo desabrochar de um jeito ou de outro”. “E se me achar esquisita, respeite também, até eu fui obrigada a me respeitar”. “Sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar”.
“Eu escrevo para me manter viva”. “Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, eu continuarei a escrever”. “Eu escrevo para ficar livre de mim mesma”. “No fundo, a gente está querendo desabrochar de um jeito ou de outro”. “E se me achar esquisita, respeite também, até eu fui obrigada a me respeitar”. “Sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar”.
“Até
cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito
que sustenta o nosso edifício inteiro”. “Renda-se
como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei, não se preocupe
em entender; viver ultrapassa qualquer entendimento”. “Liberdade é pouco; o que eu desejo ainda não tem nome” (do romance “Perto do coração selvagem”).
O romance “A paixão segundo G.H.” foi um verdadeiro choque (e ainda é) para críticos e leitores da época. Também pudera, não é para menos... Alguém consegue não se impressionar com a leitura de uma “revelação do divino a partir de um encontro de uma mulher que se vê diante de ...uma barata ??!!” (para muitos, uma verdadeira viagem “lisérgica”, mas Clarice era “caretona”, não usava drogas).
E ela começa o tal romance como uma experiência indecifrável: “...estou procurando, estou procurando...estou tentando me entender. Tentando dar a alguém o que vi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer com o que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda”.
Não
é fácil explicar Clarice. E não é qualquer um que consegue entender Clarice. Nem
ela mesma (“sou tão misteriosa que eu não me entendo”, disse ela certa vez). Quem
realmente quiser ter um “diálogo possível” com a obra dessa escritora ímpar
terá que começar devagar, com cuidado, tateando, penetrando pouco a pouco no
universo de seus escritos, pois ela tanto provoca fascínio para uns quanto
mal-estar e perplexidade para outros, e continua indecifrável, seja para seu
público cativo, seja para os que dela se aproximam pela primeira vez.
E, aproveitando as palavras do francês Olivier
Teboul, “aqui no Brasil, novela é mais importante do que cinema; mas o cinema
nacional é bom” (que eu concordo plenamente, e novela é um “pé no saco”) deixo
também a dica de “Abril despedaçado”, outra pérola desconhecida da maioria dos brasileiros.
O filme “Abril
despedaçado” conta a história de uma família do sertão nordestino, que vive
miseravelmente da moenda de açúcar, no início do século XX, e que carrega, como
sina, a rivalidade dos tempos prósperos de outrora, por lutas ancestrais pela
posse de terras – o resultado dessa rivalidade culmina em mortes de ambos os
lados, pois “reza” a tradição local que o sangue derramado do filho seja
vingado pelo irmão e assim por diante, num ajuste de contas sem fim.
O
“prazo” para se cumprir a vingança se esgota, quando a mancha de sangue da
camisa exposta ao vento fica amarelada pelo sol “castigante” do sertão – é a
abertura do filme, numa fotografia esplêndida, memorável, com a narração
ingênua e comovente do irmão caçula de nome Pacu e a música-tema “Sobre todas
as coisas” de Chico Buarque, na voz lamuriosa do Gilberto Gil, que “canta” toda
a dor e o vazio daqueles corações desesperançados.
Com direção de Walter Salles (dos também excelentes “Terra estrangeira”, “Central do Brasil” e “Diários de motocicleta”) a tomada da moenda, vista de cima, é magnífica, estonteante nos dois sentidos – pela beleza fotográfica e pelo girar lento e incessante, numa roda de “bois mandados” (o homem e o animal), numa mesmice de atos e comportamentos repetitivos.
“Abril
despedaçado” tem Rodrigo Santoro como personagem principal em atuação primorosa
(provando que não é só um "rostinho bonito e algo mais"), como o
irmão que deve vingar a morte do primogênito da família de três irmãos – eu passei
a admirar o ator a partir desse filme, onde ele está sujo, suado e maltrapilho. E
tem também o grande José Dumont (impecável atuação como sempre) como o
patriarca da família.
E
vamos nos envolver (e nos encantar) com o grupo circense e mambembe que chega na
cidadezinha, trazendo esperanças aos olhos tristes de Tonho (personagem de
Santoro) e alegria àquela terra árida, no vôo do trapézio ( outra fotografia
"estonteante"), e também com a fantasia de menino do irmão caçula que
teatraliza estórias e aventuras (do livro que ganhou da moça que
"cospe" fogo, com quem Tonho descobre o amor) num desafio ao poder
patriarcal e ao fatalismo daquela existência derradeira.
E
a história termina tragicamente, quando a tarja negra do luto cai do braço de
Tonho e então “em silêncio” (assista o filme e entenderás) ele vai ao encontro
do mar, à procura da sereia que tanto sonhava seu irmão caçula. Vale a pena ver, um belíssimo filme brasileiro aplaudido lá fora e praticamente desconhecido aqui dentro.
E
tem mais uma lista enorme de estrangeiros que se encanta com o nosso país (vide Frank Sinatra com Tom
Jobin), mas teimamos em enxergar só o errado, só o lado feio,
só as mazelas do nosso país, como se só aqui assim o fosse.
Como
o nível cultural aqui vem ficando cada vez mais rasteiro (vide as letras de
baixo calão do bate estaca de uma nota só, se é que tem alguma nota nessa coisa que chamam de “funk”), a cada dia
vemos menos artistas nossos homenageados lá fora (como acontecia no passado, vide Elis Regina na França, com a nossa bossa nova, ao lado do cantor francês Sacha Distel).
E
deixamos de valorizar as nossas boas coisas (Carmen Miranda, nascida portuguesa
mas como verdadeira brasileira internacionalizou a nossa cultura, já foi
homenageada por Woody Allen no ótimo filme “A era do rádio” e a atriz brasileira Denise
Dumont fez “as oferendas” no filme) para dar mérito ao que há de mais rasteiro na nossa
cultura, como é o caso também das pseudo músicas sertanejas (não confundir com a verdadeira música do nosso sertão brasileiro, que é realmente melodia de valor) com suas letrinhas chinfrins e rimas
paupérrimas (que qualquer caminhoneiro semianalfabeto escreveria melhor).
E
os nossos maravilhosos “Titãs” também já nos prestigiaram com a bela música “Go
back” em companhia do também excelente músico argentino Fito Paez.
Da
novíssima geração a excelente cantora Vanessa da Mata (que, em comparação com
as horrendas “dupras” sertanejas, não tem quase espaço na mídia) também já
gravou com músicos estrangeiros, cantando divinamente “Boa
sorte, good luck” com o cantor norte americano Ben Harper.
Por conta desse absurdo sentimento de
inferioridade, desse eterno “complexo de vira-lata” (termo inventado por Nélson Rodrigues, que dizia que “brasileiro é um Narciso às avessas que cospe na própria imagem”) divulgamos e valorizamos
muito pouco nossos verdadeiros artistas, assim como muitos nunca leram nossa
memorável Clarice (mesmo nascida estrangeira e tendo viajado muito, e residido inclusive fora do Brasil, mas diferente de muitos brasileiros “coxinhas”, Clarice Lispector tinha orgulho de ser
“brasileira e nordestina”, como insistia em dizer).
Infelizmente muitos nem sequer têm conhecimento da
verdadeira pérola e quão rica é a nossa cultura (e quanto mais viajo para fora do país, tanto mais me convenço disso). Triste um país que desperdiça
e não valoriza seus verdadeiros talentos.
E, como “Adorável anarquista” que sou, tenho um pouco da “adorável psicose” da atriz comediante Natália Klein quando diante de musiquinhas decadentes (uahuahuah).
Postado por *Rosemery Nunes ("Adorável anarquista")
E, como “Adorável anarquista” que sou, tenho um pouco da “adorável psicose” da atriz comediante Natália Klein quando diante de musiquinhas decadentes (uahuahuah).
Postado por *Rosemery Nunes ("Adorável anarquista")
Tags
Adorável Anarquista
Ben Harper
Benjamin Moser
Carmem Miranda
Cazuza
Clarice Lispector
Elis Regina
Fito Paez
Frejat
Natália Klein
Nélson Rodrigues
Rodrigo Santoro
Titãs
Tom Jobim
Vanessa da Mata