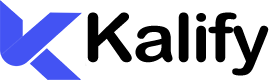Na minha profissão (médica), deparo frequentemente
com pessoas que, simplesmente, “entregaram os pontos”. Enquanto escrevo, me vem
à lembrança o olhar de uma delas, uma moça de uns 30 anos cuja voz ainda soa
lúcida (e serena) na minha mente, num semblante neutro de alguém que
desistiu da luta, já não mais espera nada, nem da vida, nem de ninguém.
E pior, se acomodou, não tem mais reações nem de
tristeza nem de ódio, simplesmente não espera nada mais da justiça divina,
muito menos da justiça dos homens... E eu, do outro lado (mesmo tendo que,
eticamente, demovê-la da ideia implícita, no seu olhar e na sua fala, de quem
desistiu da vida), no meu íntimo, uma voz interior dizia para mim mesma: “Sim,
ela tem razão, lutar para quê?”... “Qual o sentido dessa vida, nesse mundo
tão ingrato?” Para todo lado que se olha, as pessoas não mais se doam, não
pensam no próximo, não se colocam no lugar do outro...
Conformada, resignada, como alguém que aceita o seu
destino a sua sina o seu carma, ela me disse que só persistia no tratamento da
sua doença, enquanto a filha fosse ainda uma pré-adolescente, mas que, assim que estivesse “mais crescidinha”, ela iria desistir de lutar; e eu argumentei o
erro que ela cometeria, pois em pouco tempo “entraria em coma”, se
abandonasse o tratamento; e ela apenas “deu de ombros” como resposta,
mostrando o quanto a vida pouco importava para ela.
Voltei para casa, mas os olhos vazios e vagos
daquela moça não me abandonavam, e como sempre, durante o meu banho (é quando
eu consigo “me encontrar comigo mesma”, e reflito sobre o meu dia, e
a inspiração para escrever “brota” fácil), angustiada pela sensação de
impotência diante do drama da moça (a doença dela é grave, perdeu a chance de
cura, mas a doença tende a se arrastar por anos e anos, até que um dia...), por
eu não ter tido argumentos convincentes, nem mesmo para mim mesma, minha mente
e minhas mãos ágeis colocaram no papel essas palavras e essas reflexões.
E como tudo que vivencio na minha vida me leva ao
mundo do cinema, me lembrei do belo filme “Minha vida sem mim”, e também de
“Mar adentro” em que os personagens, nesses dois filmes, estão convencidos de
que a morte (assim como a moça) é o único caminho a seguir, e só resta a eles
aceitar e “dar as mãos” ao seu destino.
“Minha vida sem mim” é um filme canadense, delicado e sutil, e
triste (sim, triste, mas não é um dramalhão piegas e muito menos
previsível). Depois de descobrir que um câncer lhe roubará a vida dentro de
alguns meses, uma jovem de vinte e poucos anos (a atriz Sarah Polley,
protagonizando com Mark Rufallo), toma duas decisões importantes (ao som da
bela música “Sometime later” e da antiga canção italiana “Senza Fine”, que fazem parte da trilha sonora): ocultar a
doença de todos e redigir uma lista das coisas que pretende fazer antes de
morrer (e seus desejos secretos incluem “fazer amor com outro homem” e “fazer alguém
se apaixonar por ela”).
O polêmico tema eutanásia é abordado no sensível e
tocante “Mar adentro” filme espanhol com o talentoso ator Javier Barden (que dá um banho de
interpretação) na pele de um tetraplégico que “luta” pelo direito de morrer
dignamente.
Nos dois filmes, os personagens condenados assumem
uma postura um tanto quanto egoísta, não mais se importando com os seus à sua
volta, mas... quem somos nós para julgar alguém na posição deles? Por que
esperar atitude altruísta de quem tanto esperou de todos e nada recebeu?
O que, para nós, pode até parecer melancólico,
triste, e parecer inclusive depressivo, para eles é apenas a constatação de que não
vale a pena viver daquele jeito, que a vida perdeu o sentido (o tal sentido da
vida que nem sabemos direito qual é), daí a serenidade e aparente paz de
espírito pela difícil escolha.
Diferente dos dois personagens dos filmes acima, Denzel Washington, no filme “Um ato de coragem” (título original “John
Q”), diante da imparcialidade das pessoas à sua volta, tem seu “dia de fúria,
de insanidade” ao fazer reféns pacientes de uma emergência, no intuito de
exigir da direção médica do hospital, no qual seu filho encontra-se entre a
vida e a morte, a liberação para o transplante cardíaco do seu filho cujo plano
de saúde não cobriria tal despesa.
Mesmo algo piegas e bastante previsível (mas a boa atuação de
Denzel consegue contrabalançar isso), e com falhas na reconstituição dos atos
médicos (totalmente aceitáveis e cabíveis na chamada “licença poética” do
cinema), o filme é uma crítica ao sistema de saúde dos EUA, com seus planos de
empresas de saúde que visam apenas o lucro sem nenhum compromisso ético com a
vida dos seus associados.
O termo “Dia de fúria” refere-se ao filme da década
de 90, título original “Falling down”, em que o protagonista vivido por Michael
Douglas perde esse controle limítrofe (que tentamos preservar a todo custo
diante do ritmo alucinante e estafante da vida moderna e da paranoia urbana das
grandes metrópoles) e parte então para a agressividade sem pensar nas
consequências dos seus atos.
Quem nunca já teve (ou pelo menos quis ter) essa
reação de “enlouquecimento” (diferente da loucura ou qualquer outro distúrbio
psiquiátrico) diante de situações extremas? Atire a primeira pedra quem já não
quis se livrar de algum sujeitinho escroto, um daqueles que parece que veio ao mundo apenas
para atazanar a vida dos mortais que passam à sua frente? (eu já tive meu “dia
de fúria” contra um desses, e digo isso sem nenhum constrangimento, pelo menos não fui
conivente com o tal).
A mim, ao contrário, me incomoda pessoas muito equilibradas, muito certinhas, muito passivas (em geral, são chatas, caretas e pedantes). O mais recente filme de animação da Pixar Estúdios, intitulado “Inside out”, apresentado no recente festival de Cannes (no Brasil, ganhou o título de “Divertida Mente”) conta a história da menina que tem esses sentimentos mais ocultos (raiva, medo, tristeza e outros) revelados através de personagens que participam ativamente da sua vida ao ter que lidar com seus dilemas cotidianos (ao som da ótima “More than a feeling”, da banda Boston).
A mim, ao contrário, me incomoda pessoas muito equilibradas, muito certinhas, muito passivas (em geral, são chatas, caretas e pedantes). O mais recente filme de animação da Pixar Estúdios, intitulado “Inside out”, apresentado no recente festival de Cannes (no Brasil, ganhou o título de “Divertida Mente”) conta a história da menina que tem esses sentimentos mais ocultos (raiva, medo, tristeza e outros) revelados através de personagens que participam ativamente da sua vida ao ter que lidar com seus dilemas cotidianos (ao som da ótima “More than a feeling”, da banda Boston).
O mais recente sucesso argentino, “Relatos
selvagens”, é o protótipo mais fiel desse limite, quando perdemos a noção de
civilidade e partimos para a selvageria, através de sentimentos contidos que
guardamos a sete chaves, e que muitas vezes afloram irracionalmente, como uma sensação de alívio diante de
burocracias inúteis ou outras irracionalidades das nossas instituições.
O filme é simplesmente imperdível. São seis
histórias independentes (passando por nossos famosos “monstros interiores” como
vingança, traição e outros) e, num tom excessivamente trágico e violento, e, ao mesmo
tempo, divertidamente cômico, o filme (que tem Ricardo Darin, como um dos protagonistas de uma das histórias) consegue a proeza de nos fazer refletir diante
de tanta injustiça e desigualdade social, de tanta intolerância racial, sexual
e religiosa e de tamanha corrupção do nosso sistema social burguês, numa
sociedade individualista e egoísta onde prevalece a política escrota de “dois
pesos e duas medidas” (eu, inclusive, abri um processo ético contra um desses famigerados “motherfuckers de carteirinha”, mas mancomunado com o sistema corrupto, o dito cujo bloqueia o andamento do mesmo).
Em contrapartida, um amigo médico acaba de lançar
um livro, aparentemente semi-autobiográfico, intitulado “A convenção do
amor”, que tem início com a história de um paciente que coloca um médico sob a
mira de um revólver caso não seja imediatamente atendido na sala de emergência.
De novo é o ser humano no seu limite emocional.
Só que diferente dos “relatos selvagens” dos filmes
acima, a história se desenrola num envolvimento emocional/espiritual que nos
leva a refletir sobre como podemos mudar o curso de uma história e como a nossa
frágil vida pode se desfazer diante de nós, mas também que pode haver algo
muito além dessa nossa vida terrena. “Há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia”. Eu recomendo (e muito) a leitura.
E, para terminar, no meio desse turbilhão de
emoções que sempre foi mais um dia na minha vida profissional, e como, além da
minha profissão, minha vida sempre gira também em torno da (boa) música, lembrei-me
da bela canção “Everybody hurts” do R.E.M., que ilustra bem esse
texto.
Postado por *Rosemery Nunes ("Adorável anarquista")
Postado por *Rosemery Nunes ("Adorável anarquista")
Tags
Adorável Anarquista
Denzel Washington
Javier Bardem
Mark Ruffalo
Michael Douglas
Pixar Estúdios
Ricardo Darin
Sarah Polley