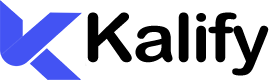“Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão”: a cabeça cheia de ideias mirabolantes e revolucionárias era a de Glauber Rocha e a câmera era uma “super 8”. A indústria cinematográfica ganhava, nas décadas de 60/70/80, um novo impulso com as novas bitolas das películas.
Para quem desconhece terminologia cinematográfica, bitola se refere à largura da película, que é expressa em milímetros; até então (década de 50), o cinema usava bitolas de 16 mm até 70 mm que, apesar da qualidade das imagens, exigiam máquinas pesadas de difícil transporte.
Assim, a então nova bitola de 8 mm e, a seguir, a “moderníssima” super 8 (a famosa “vedete” portátil de baixo custo dos anos 70/80, que era da mesma largura que a de 8 mm, mas tinha espaço para mais imagens) na mão das cabeças pensantes e revolucionárias da época, acabaram por atiçar jovens cineastas, sedentos por denunciar injustiças.
Era uma época de ditaduras e de guerra fria (e também guerras “quentes”, como foi a guerra do Vietnã e a guerra da Coréia), alimentadas pela polarização entre dois mundos rivais, o capitalista e o comunista; mas também uma época no auge de novidades nas artes, na música, na literatura e, consequentemente, no cinema.
Com a praticidade da nova câmera, mais leve e portátil, Glauber Rocha criou verdadeiras pérolas do chamado cinema novo brasileiro, tais como “Deus e o diabo na terra do sol” e “Terra em transe”.
E também a música se beneficiou com a câmera portátil e, ainda nos dias de hoje, o formato “câmera na mão” faz a diferença na hora da praticidade em se deslocar de um lado para o outro.
Tanto que, ainda na recente virada do século, no início do ano 2000, o engenheiro de som Mark Johnson teve a bela ideia de, aproveitando a comodidade da “câmera na mão”, montar um estúdio de gravação móvel para conectar o mundo através da música.
Para tal intento ele reuniu, em um documentário, músicos de rua, de diversos lugares do mundo, de várias raças e religiões diversas, em seus “habitats” naturais, ao ar livre em parques, praças, estradas, montanhas, no Himalaia, na África do Sul, no Oriente Médio, na Europa e nas Américas, todos “conectados” virtualmente num mesmo objetivo, ou seja, levar paz e tolerância aos quatro cantos do mundo.
A famosa música “Stand by me” (que ganhou fama mundial na voz de John Lennon) é interpretada de maneiras variadas por músicos violoncelistas, percussionistas e até pelo cavaquinho de um único brasileiro (entre mais de 100 músicos participantes), o músico César Pope, no Rio de Janeiro.
O projeto, intitulado “Playing for change” (que, anos depois do documentário, rendeu também um CD/DVD e um show ao vivo), contou com a participação de negros, brancos e indígenas, árabes, judeus e muçulmanos, todos interpretando hinos-pop de paz, cada qual com sua performance própria, num evidente apelo por um mundo melhor. Músicas revolucionárias e libertárias de Bob Marley como “Redemption Song”,“One love”, “War e “No more trouble” estão todas lá, registradas pela “câmera na mão” de Mark Johnson e sua equipe.
Mas nem sempre tudo foi assim tão prático e versátil; se hoje temos salas de cinema com tecnologia digital em 3D, e até 4D (ou seja, já não basta mais assistir em três dimensões, o espectador agora já pode ter a sensação de estar dentro do filme, com direito a fumaça, chuva, movimento e até cheiro), nos primórdios do cinema não havia nem o audiovisual.
Nos primórdios da sétima arte, a exibição dos filmes, então ainda mudos, era acompanhada ao vivo por uma orquestra de músicos contratados para tocar durante toda a sessão de cinema; de acordo com a cena, a música dava ambiência ao conteúdo do filme, como forma de atrair e seduzir o público, complementando a experiência visual oferecida pelas imagens, e havia também em algumas salas a figura do narrador que tinha como papel explicar certas passagens do filme.
Vencedor do Oscar de 2012, “O artista” começa mostrando essa trajetória do cinema (inclusive a orquestra, acompanhando as cenas, também está lá, logo na abertura do filme) e segue até a fase final do cinema mudo, exatamente na transição para o cinema falado.
E como a arte imita a vida (e vice versa), assim como no filme “O artista”, nem tudo foi aceito passivamente; tanto foi a resistência contra o cinema falado que o grande cineasta russo Serguei Eisenstein (diretor do clássico “O encouraçado Potenkim”) chegou a escrever um manifesto contra a implementação da técnica audiovisual.
Muitos outros cineastas renomados também foram inicialmente contra a nova tecnologia; grandes nomes como Charles Chaplin assim como o diretor francês René Clair também resistiram à novidade do som no cinema falado.
Chaplin acreditava que só continuaria tendo sucesso nos seus filmes se fosse mantida a pantomima (arte de narrar com o corpo) do seu personagem Carlitos, como no filme “Luzes da cidade” (realizado quando ainda se negava a gravar com a nova tecnologia).
Mas o cineasta acabou se rendendo, e “se despediu” divinamente do personagem vagabundo no filme “Tempos modernos”; e ainda produziu filmes primorosos, já com a novidade audiovisual, tais como “Luzes da ribalta” e “O grande ditador”.
Outro avanço da indústria cinematográfica foi a evolução do material das películas do formato analógico, até chegar a era digital atual; nos primórdios da sétima arte usava-se o nitrato de celulose como matéria prima das películas, um material termoplástico gelatinoso, quimicamente instável que podia se incendiar espontaneamente, e que por sua vez era misturado com cânfora, além de corantes e outros agentes, e que tinha um gosto adocicado de gelatina (que funcionava como uma “cola” para unir os componentes da película).
No belo filme italiano “Cinema Paradiso”, o diretor Giuseppe Tornatore, numa quase autobiografia, dá um “aula” sobre a evolução da tecnologia cinematográfica, dos anos 50 aos dias atuais (no caso, anos 90, quando o filme foi rodado) nos diversos diálogos entre os personagens principais.
O projecionista Alfredo, amável e ranzinza ao mesmo tempo, ensina a arte do cinema ao menino Totó que, na prática, aprende qual o lado certo de colocar o filme no projetor, lambendo e sentindo o gosto doce de gelatina da película de celulose.
Imperdível a graça e a irreverência do personagem Totó, papel do então ator mirim Tornatore Cascio, xingando o veterano ator Phillipe Noiret, o memorável Alfredo, literalmente mandando-o “tomar naquele lugar”.
E, sem acreditar na história de que a película poderia sofrer combustão espontânea, o ainda menino Totó amarga a triste experiência de comprovar a veracidade disso, ao tirar o velho amigo Alfredo de dentro do querido Cinema Paradiso completamente tomado pelas chamas.
E já rapaz, crescendo na mesma proporção que o cinema, Totó filma apaixonadamente sua musa e eterna paixão adolescente com a então “moderníssima” câmera portátil bitola “8 mm” (e a película já não mais se incendiava facilmente, pois foi substituída por tri-acetato de celulose, muito menos inflamável), até tornar-se enfim, na vida adulta, um cineasta famoso já com o cinema em imagem VHS (ainda não havia a imagem digital dos dias de hoje), mas as lembranças do bom e velho cinema nunca sairiam da memória do menino cinéfilo, e agora cineasta, Totó (o alter ego do diretor Giuseppe Tornatore).
A história e a magia do cinema, numa impressionante metalinguagem, foi romanceada e imortalizada para sempre em “Cinema Paradiso”, principalmente na antológica cena final – os olhos marejados do ator Jacques Perrim, no papel do Totó já adulto e cineasta, diante das belas cenas de beijos em preto e branco, resume toda a paixão do diretor pelo cinema, ao som instrumental da belíssima trilha sonora de Ênio Morricone.
Postado por *Rosemery Nunes ("Adorável anarquista")
Tags
Adorável Anarquista
Bob Marley
Charles Chaplin
Ênio Morricone
Giuseppe Tornatore
Glauber Rocha
Jacques Perrim
O artista
Phillipe Noiret
Playing for change
Serguei Eisenstein
Tornatore Cascio