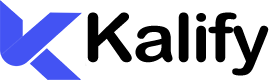Na minha profissão (médica),
muitas vezes me deparo com pessoas que simplesmente “entregaram os pontos”. E,
profissionalmente, aprendemos que não devemos nos envolver emocionalmente, para assim
mantermos a serenidade e então podermos lucidamente ajudar àqueles que
necessitam do nosso apoio profissional, transmitindo segurança e confiança
aos que buscam, em nós profissionais da saúde, uma palavra de conforto e de
esperança.
Mas é praticamente impossível não se envolver e não se
importar. Ao menos, temos que fingir convincentemente, daí muitos acreditarem
na “frieza” de muitos médicos, diante de provações limítrofes (claro que há
exceções, como em toda a regra, “para o bem e para o mal”, ou seja, “motherfuckers” existem em todos os lugares e profissões).
Na verdade, é preciso um esforço sobre-humano, pois ninguém
sai ileso quando em profissões que lidam com a vida e o sentimento humano. São
as chamadas “profissões-perigo” (entre aspas, porque aqui me refiro apenas ao “sentido emocional” da palavra), muito diferente das
demais profissões (como um arquiteto ou um decorador, por exemplo, que lidam
com cimento armado e objetos inanimados).
E assim, como “tudo na minha vida me leva ao mundo da sétima
arte”, eu me identifiquei muito com a personagem policial Sarah Linden (papel da atriz
americana Mireille Enos) da recém-findada série americana “The killing” (veiculada
pela Netflix). A personagem e o seu parceiro, o detetive Stephen Holder, não se
fazem de “fodões” (como, em geral, são retratados policiais e detetives no
cinema), ao contrário, são falíveis como todos nós somos na vida real.
Situada numa Seattle quase sempre nublada e extremamente chuvosa (lá
chove em média 220 dias no ano), a série policial envolvendo assassinatos (no
melhor estilo “serial killer”) fica mais sombria ainda com a chuva torrencial
que cai impiedosamente sobre os dois detetives. Altamente viciante, mal acaba
um episódio, e é impossível não querer saber qual vai ser o desenrolar das
investigações do próximo episódio.
“The Killing” é uma adaptação da série dinamarquesa
“Forbrydelsen” (que significa “O crime”) e foi ao ar em 2011 e terminou a
quarta e última temporada agora em meados de 2014. As duas primeiras temporadas
(média de 10 episódios cada) se concentram na investigação da morte de uma
jovem adolescente (de nome fictício Rosie Larsen) brutalmente assassinada, que
lembra vagamente a trama da antiga e premiadíssima série “Twin Peaks” dos anos 90 (sobre o assassinato da famosa personagem Laura Palmer), do aclamado cineasta surrealista David Lynch, série que também ficou famosa por sua bela música instrumental de abertura (aliás, existe rumores de um possível retorno da série, com o próprio cineasta novamente “no comando” mas, se rolar mesmo, será só em 2016).
A tal detetive Sarah Linden é extremamente emotiva e
age muitas vezes instintivamente, o que a leva a cometer erros e acertos que a
tornam mais humana, e mais condizente com a realidade aqui fora de quem realmente
lida tragicamente com a vida humana, que é o caso destas nossas “profissões-perigo”,
muito diferente da prepotência (leia-se, estilo “badass”) do agente secreto 007 (“My name is Bond, James Bond”).
Somos humanos e consequentemente emotivos (o tal hemisférico direito intuitivo e sensível). Excluindo os psicopatas sociais, todos temos sentimentos (nobres ou não), por isso não conseguimos separá-los e excluí-los do nosso convívio social, profissional e familiar.
Mas também não precisamos exagerar, como assim o faz o policial “Max Payne”, com as suas tiradas quase “poéticas, góticas, dark, e sei lá o que mais” (que chegam a ser hilárias, tal a dramaticidade na fala do personagem) no famoso videogame, principalmente na sua versão dublada em português (“até a noite reclamava do frio”; “estava mais frio que o coração do diabo”; “o sol se pôs com a arrogância de sempre”; “a neve caía como confete no carnaval do diabo”, kkkk).
Voltando ao “The Killing”, na terceira temporada (e também na quarta e última temporada) começam novas investigações de outros assassinatos, mas ainda mantêm histórias
entrecruzadas, que dizem respeito aos dois (problemáticos e desajustados)
policiais protagonistas, cheios de histórias pessoais mal resolvidas, que eles tentam solucioná-las, em paralelo às investigações dos crimes em questão. O ator sueco Joel kinnaman, que faz o papel do parceiro da policial Sarah foi o novo “Robocop”,
recém-estreado no cinema, sob a direção do nosso José Padilha.
Pausa para uma curiosidade em relação ao “Robocop” de 2014: dizem as “más línguas” que o nosso cineasta brasileiro José Padilha reclamou dos estúdios que limitaram os gastos no orçamento do filme, o que teria comprometido a criatividade do nosso cineasta (eu, particularmente, gosto mais do primeiro Robocop, dos anos 80, talvez pela visão inusitada e futurista do poder das máquinas, ainda uma novidade na época).
Voltando a “The Killing”, apesar de excelente, a série peca pelo excesso de “red herring” (pistas falsas) e “plot twist” (reviravoltas inesperadas na trama) que acabam soando implausíveis e até surreais demais (mas que não chega a comprometer a série como um todo), tal a grande quantidade de personagens com alguma “culpa no cartório” (principalmente na primeira temporada), mas que, no final, são “inocentados” quanto ao crime principal.
Talvez a grande “lição de moral” desta série seja que “as aparências podem enganar sim” e que “não devemos julgar ninguém precipitadamente”, pois podemos correr o risco de estarmos cometendo uma grande injustiça.
Um adendo e uma curiosidade: na sétima arte, o termo “red herring” é usado no sentido de “pista falsa, disfarce, informação irrelevante”, e ao pé da letra, significa “arenque vermelho”, que diz respeito a certos peixes (no caso, o arenque) cujo sangue fétido era jogado, no passado, por presidiários em fuga para confundir o faro dos cães farejadores, despistando assim os policiais que estavam em seus encalços.
Talvez a grande “lição de moral” desta série seja que “as aparências podem enganar sim” e que “não devemos julgar ninguém precipitadamente”, pois podemos correr o risco de estarmos cometendo uma grande injustiça.
Um adendo e uma curiosidade: na sétima arte, o termo “red herring” é usado no sentido de “pista falsa, disfarce, informação irrelevante”, e ao pé da letra, significa “arenque vermelho”, que diz respeito a certos peixes (no caso, o arenque) cujo sangue fétido era jogado, no passado, por presidiários em fuga para confundir o faro dos cães farejadores, despistando assim os policiais que estavam em seus encalços.
Como os dois detetives da série, eu perdi a conta de
quantas vezes consolei (e fui consolada por) colegas profissionais, quando
diante de incertezas ou dilemas, quando nos sentimos impotentes (pela nossa
limitação diante do inevitável, como a morte, por exemplo) e, por conta disto,
nos julgamos muitas vezes “culpados” (tal qual os dois policiais da série) por algum procedimento de risco inevitável.
Mas
como tendemos a nos mostrar infalíveis, somos muitas vezes prepotentes e não
aceitamos facilmente que temos falhas, pois somos “humanos, demasiadamente humanos”
(parafraseando Nietzsche). O curta-metragem espanhol “A Dama e a Morte” ilustra divinamente (e de modo divertido) esse embate eterno entre o médico e a “ceifadora”.
E como médicos, choramos muitas vezes, ou nos ombros uns
dos outros, ou então um choro incontido explode num canto isolado e solitário, por causa de
algum paciente que, inevitavelmente, não conseguimos recuperar suas funções
orgânicas ou sua própria vida. E a famosa série americana “Scrubs” retrata fielmente este drama quase diário no nosso dia a dia (principalmente no meu, como cardiologista emergencista).
Enquanto escrevo, me
vem à lembrança o olhar de um desses pacientes, uma moça de uns 30 anos, e a
sua voz ainda soa lúcida (e até serena) na minha mente, num semblante neutro de
alguém que desistiu da luta, já não mais espera nada, nem da vida, nem de
ninguém.
E pior, o semblante
dela era de alguém que se acomodou, sem mais reações, nem de tristeza, nem de
ódio, simplesmente de quem não espera nada mais da justiça divina, muito menos
da justiça dos homens,... e eu, do outro lado, mesmo tendo que, eticamente,
demovê-la da idéia de desânimo e desistência, no meu íntimo, uma voz interior,
dizia para mim mesma: “sim, ela tem razão, lutar para quê?”. Qual o
sentido dessa vida, nesse mundo tão ingrato e tão corrompido? As pessoas, para
todo lado que se olha, não mais se doam, não pensam mais no próximo, não mais
se colocam no lugar do outro (era este o meu pensamento naquela hora).
Conformada, resignada
(como alguém que aceita o seu destino, a sua sina, o seu carma), ela me disse
que só persistia no tratamento da sua doença, por causa da filha pré-adolescente,
mas que assim que a menina estivesse “mais crescidinha”, ela iria desistir
de lutar, e eu argumentei o erro que ela cometeria (pois em pouco
tempo entraria em coma, caso abandonasse o tratamento), e ela
apenas “deu de ombros” como resposta, mostrando o quanto a vida pouco
importava para ela.
Voltei para casa, mas
os olhos vazios e vagos daquela moça não me abandonavam, e como sempre, durante
o meu banho (é quando eu consigo “me encontrar comigo mesma” e reflito
sobre o meu dia), angustiada pela sensação de impotência diante do drama da
moça (a doença dela é grave, perdeu a chance de cura, mas tende a se arrastar
por anos e anos até que um dia...), por não ter tido argumentos convincentes,
nem mesmo para mim mesma.
E, mais uma vez,
volto ao mundo do cinema, à lembrança do belo filme “Minha vida sem mim”, e
também de “Mar adentro” (o “tetraplégico” Javier Bardem está magnífico com sua
vida eternamente presa a um leito), em que os personagens, nessas duas
películas, estão convencidos de que a morte (assim como a moça que conheci) é o
único caminho a seguir, e só resta a eles aceitar, e “dar as mãos” ao
seu destino.
“Minha vida sem mim”
é um filme delicado e sutil, e triste (sim, muito triste, mas não é
um dramalhão piegas e, muito menos, previsível). Depois de descobrir que um
câncer lhe roubará a vida dentro de alguns meses, uma jovem de vinte e poucos
anos (a atriz Sarah Polley protagonizando com o ator Mark Rufallo) toma duas
decisões importantes: ocultar a doença de todos e redigir uma lista das coisas
que pretende fazer antes de morrer, e seus desejos incluem “fazer amor com
outro homem” e “fazer alguém se apaixonar por ela”.
Nos dois filmes, os
personagens condenados assumem uma postura um tanto quanto egoísta, não mais se
importando com os seus à sua volta, mas... afinal, quem somos nós para julgar
alguém na posição deles? Por que esperar atitude altruísta de quem tanto
esperou de todos e nada recebeu?
O que, para nós, pode
até parecer melancólico, triste, e “soar até como depressivo”, para eles é
apenas a constatação de que não vale a pena viver daquele jeito, que a vida
perdeu o sentido (o tal sentido da vida que nem sabemos direito qual é), daí a
serenidade e aparente paz de espírito pela difícil escolha (a bela sonoridade
da música “Sometime later”, da banda inglesa Alpha, acompanha a
protagonista nas cenas do filme “My life without me”).
E no
meio desse turbilhão de emoções de sempre, de mais um dia na minha vida
profissional, e como a minha vida sempre gira também em
torno da música, lembrei-me também de outra bela música que ilustra muito bem
este meu texto (“Everybody hurts”, do R.E.M.): “Well, everybody hurts, sometimes, everybody cries, and everybody hurts ... So hold on, hold on, hold on, everybody hurts, you're not alone”.
E o nosso belo rock nacional não podia deixar de ilustrar também esse meu texto angustiante em forma de desabafo, com o Herbert Vianna e a sua banda “Paralamas do Sucesso” com “Lanterna dos Afogados” (e tem gente que ainda perde tempo ouvindo pseudo-músicas tais como as letras “estilo-cachorra” do funk e as letras de “corno e/ou de babaca-mor” do tal sertanejo universitário, aff...).
Mas, é bem verdade que, no meio de um monte de dramas da minha “profissâo-perigo”, temos os nossos momentos de descontração que, muitas vezes, vem de um ou outro paciente que, por exemplo, consegue transformar seus próprios problemas em uma ladainha de múltiplas queixas como se fossem “troféus”, praticamente se vangloriando deles (o ator Bemvindo Pereira de Sequeira consegue representar fielmente estes hipocondríacos, em “Tudo bem com o senhor?” kkk).
E a série “Scrubs” mostra também, divinamente, a nossa “hora do recreio”, com frequentes brincadeiras entre nós, para relaxar o estresse do dia a dia (do contrário, a gente literalmente “surta”, como um dos personagens da série, kkkk).
Postado por *Rosemery Nunes ("Adorável anarquista")
Tags
Adorável Anarquista
James Bond
Javier Bardem
Mar adentro
My life without me
Netflix
plot twist
R.E.M.
red herring
Robocop
The Killing
Twin Peaks